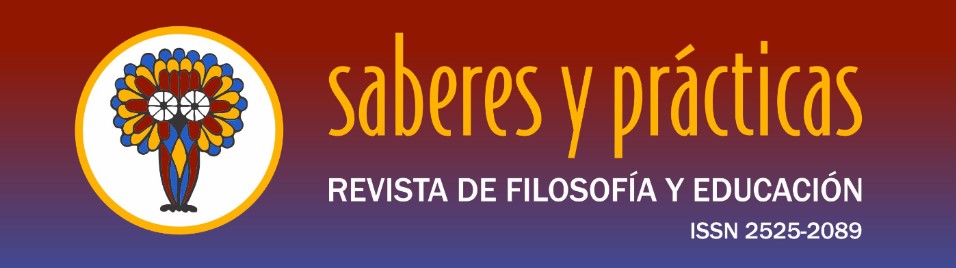
A experiência estética na formação de
professores: linguagens e aprendizados na educação
Aesthetic Experience in Teacher Training: Languages
and Learning in Education
Experiencia estética en la formación de profesores:
idiomas y aprendizaje en educación
Tania
Micheline Miorando
Universidade
Federal de Santa Maria, Brasil.
tmiorando@gmail.com
Valeska
Maria Fortes de Oliveira
Universidade
Federal de Santa Maria, Brasil.
vfortesdeoliveira@gmail.com
Recibido: 01/10/2020
Aceptado: 25/12/2020
Resumo. A educação qualifica suas discussões ao
trazer para a formação de professores a experiência cinema e o cuidado
ético-estético. A investigação objetivou compreender os processos formativos docentes
na formação inicial de professores a partir do instituinte ético-estético em
educação, mobilizados pelo cinema. O estudo relacionou a formação
ético-estética no aprendizado da Língua Brasileira de Sinais para professores
ouvintes em formação inicial. As discussões teóricas, com base no Imaginário
Social, de Castoriadis, discutiram a Formação Inicial de Professores e o
Cinema, a Estética e a Ética. Os dispositivos metodológicos fundamentaram-se na
pesquisa-formação (Josso, 2004), a partir de narrativas dos estudantes. Os
resultados apontaram que a formação inicial dá espaço para romper com o
racionalismo de programas curriculares quando se permite a leituras matizadas
com a arte e discussão estética, saindo de formalismos reducionistas de
programas curriculares. Ainda, veio reafirmar o diálogo, provocado pelo cinema
na formação de professores, instituindo a ética e a estética na docência.
Palavras-chave. Formação de Professores, Língua
Brasileira de Sinais, Imaginário Social, Cinema e Educação, Estética.
Abstract. Education qualifies its discussions by
bringing cinema experience and ethical-aesthetic care to teacher training. The
investigation aimed to understand the teacher training processes in the initial
teacher education based on the ethical-aesthetic institute in education,
mobilized by the cinema. The study related the ethical-aesthetic
formation in the learning of the Brazilian Sign Language for teachers hearing
in initial formation. Theoretical discussions, based on Castoriadis's Social
Imaginary, discussed Initial Teacher Education and Cinema, Aesthetics and
Ethics. The methodological devices were based on research-training (Josso,
2004), based on the students' narratives. The results pointed out that the
initial training gives space to break with the rationalism of curricular
programs when readings nuanced with art and aesthetic discussion are allowed,
leaving reductionist formalisms of curricular programs. Still, it came to
reaffirm the dialogue, provoked by cinema in teacher training, instituting
ethics and aesthetics in teaching.
Keywords.
Teacher training, Brazilian Sign Language, Social Imaginary, Cinema and
Education, Aesthetics.
Resumen.
La educación matiza sus discusiones aportando la experiencia cinematográfica y
el cuidado ético-estético a la formación del profesorado. La investigación tuvo
como objetivo comprender los procesos de formación docente en la formación
inicial docente a partir del instituto ético-estético en la educación,
movilizados por el cine. El estudio relacionó la formación ético-estética en el
aprendizaje de la Lengua de Señas Brasileña para profesores oyentes en
formación inicial. Las discusiones teóricas, basadas en el Imaginario Social de
Castoriadis, abordaron la formación inicial del profesorado y el cine, la
estética y la ética. Los dispositivos metodológicos se basaron en la
investigación-formación (Josso, 2004), a partir de las narrativas de los
estudiantes. Los resultados señalaron que la formación inicial da espacio para
romper con el racionalismo de los programas curriculares cuando se permiten
lecturas matizadas con arte y discusión estética, dejando formalismos
reduccionistas de los programas curriculares. Aún así, llegó a reafirmar el
diálogo, provocado por el cine en la formación del profesorado, instituyendo la
ética y la estética en la enseñanza.
Palabras
clave. Formación docente, Lengua de señas brasileña, Imaginario Social,
Cine y Educación, Estética.
Este
trabalho apresenta a discussão feita a partir da tese que defende a formação
ética-estética na formação inicial para a docência, abrindo-se à experiência
cinema, cuidando cada um desses elementos como formativos para a
professoralidade que se constitui. Por isso, falar da formação de professores,
a partir deste momento será interpelado pela experiência estética.
O cuidado em
trazer à pauta para discutir, compreender e efetivar a arte - o cinema - na
educação, é premente. Perguntamo-nos em quais circunstâncias isso se põe tão
necessário e levamo-nos a colecionar indicativos que mostram o quanto é
importante, ao sairmos de índices que atravessam, desde o não acesso a meios
letrados, até o analfabetismo funcional, a busca pelos mais diversos elementos
que compõem o letramento social (Street, 2014). Dentre eles, ressalto a possibilidade
da experiência cinema para a formação inicial de professores.
Neste
trabalho apresentamos a experiência de levar turmas de professores em formação
inicial a pensar seus estudos a partir de inspirações que o cinema provoca sob
o cuidado estético, atentas à ética que se estabelece ao manifestar suas e
nossas narrativas. Especificamente, esta pesquisa deu-se entremeio ao
aprendizado de linguagens: a Língua de Sinais e a linguagem cinematográfica.
Assumimos, os estudantes e nós, durante o processo de estudo, que o conjunto de
vocábulos - orais ou sinalizados - expressam para além de um enunciado. Falamos
muitas línguas e há nessa comunicação uma linguagem para se fazer um filme.
A Língua de
Sinais está na formação inicial de professores para além de um dicionário/sinalário.
Aprender uma língua é transpor o corpo para mais um território cultural e
aproximar-se dos sujeitos que ali habitam a língua que falam. O exercício de
pensar na língua (Gadamer, 2007) foi mais um desafio ao aprendizado, pois que
tencionava ocupar um corpo que pisava em outro território. E quanto mais
adentravam na língua, mais corpo lhe pedia o aprendizado: expressões,
trejeitos, emoções, sussurros e silêncios. Palavras emprestadas sussurravam a
todo momento o cuidado em dizê-las.
Professores
em formação inicial viviam a experiência ética (Hermann, 2005) pelo transcurso
discursivo de linguagens: ver e falar por imagens, ouvir e interpretar sons e
silêncios. A Língua de Sinais e o cinema compunham o ineditismo de cenários
para aprendizagens já percorridas: conhecer uma língua. Os métodos para a
aprendizagem de língua não eram novos, mas a experiência que estava sendo
vivida nesse momento, junto de muitos sentimentos, estava sendo narrada pela
primeira vez. Agora, jovens adultos, podiam falar de como sentiam-se ao
aprender e quando experimentavam o lugar da docência poderiam, outra vez,
pensar sobre o que acontecia consigo, nas aulas e sobre suas projeções com
esses novos conhecimentos.
A docência
se escrevia em recomendações imagéticas entre narrativas desacostumadas,
desacomodadas. Ocupar uma tentativa de vestir por palavras novas falas, poderia ser tão diverso quanto comum: exigia tomar uma liberdade de expressar-se e
experimentar-se. O mais importante que ocorreu foi a possibilidade de um
estranhamento de discursos sobre o outro, que poderia estar acontecendo pela
nova língua que aprendiam. O cinema emprestava imagens para figurar argumentos
nas formulações de suas narrativas: para a docência, para a sua cidadania, para
a vida.
A professoralidade
(Pereira, 2013) que instituía sua estética docente ensaiava-se entre memórias
(Bosi, 2010) que vinham sobrevivendo em relatos de lembranças, de um imaginário
instituído e as intenções cheias de planejamentos que passavam a inspirar ao
instituinte (Castoriadis, 1987b). Um mesclado de presente, projetado na
profissão que pretendiam atualizar, de mãos ainda às sensações de rotinas
escolares, nem tão distantes. A presença de uma escola com outros cheiros e
outros movimentos para um protagonismo ora docente, na sua autoria de
planejamentos e pensamentos, ora discente como aprendiz de um lugar que precisa
ocupar com suas próprias palavras e manifestações.
A docência,
o cinema e a experiência estética, foram questões trazidas durante todos os
encontros que estivemos juntos nesta formação e assim provocadas para que
seguissem em suas carreiras profissionais. O tanto que buscamos por legitimar
espaços para o pensar com o cinema é por sua força em percorrer tempos e
espaços, inspirações: eram as nossas, pairavam entre nós e seguirá com cada um.
Ter presente na formação a experiência estética promove movimentos que
ressurgem sob muitos outros nomes, quando sua ausência não preenche o sentido
do que compreendemos que seja a vida na escola.
A discussão
que segue trará as provocações metodológicas em ações que foram investidas na
organização do estudo. De um exercício a outro, as experiências cumpriram com a
rigorosidade que a academia requer para seus estudos, explicados em cada uma de
suas etapas. Vislumbrando os objetivos, propusemos um conjunto de ações que se
oferecessem a dar materialidade aos argumentos conceituais que trazíamos em
nossas hipóteses para a investigação.
As tramas
que indicaram os caminhos metodológicos deram-se pelos movimentos que os
convidados a participar deste estudo manifestaram.Todos os alunos matriculados
nas turmas de Língua Brasileira de Sinais - Libras, presencial, de uma
Universidade Comunitária do sul do Brasil, que aceitaram participar da
pesquisa, puseram-se integrar e interferiram com seus posicionamentos.
Participaram os estudantes de licenciaturas, em formação inicial, no total de
oitenta e quatro (84) estudantes no primeiro e segundo semestres letivos de
2017, em três turmas.
Nessa
universidade, na graduação, no ano em que foi feita a investigação, a
disciplina de Libras tinha a carga horária de sessenta (60) horas e continua
sendo ofertada em todos os semestres. Em 2017, no primeiro semestre, foram duas
(2) turmas presenciais, com vinte e quatro (24) estudantes, de quatro (4)
cursos de licenciatura: Educação Física, Letras, História e Pedagogia. No
segundo semestre de 2017, foi apenas uma (1) turma presencial com dezessete
(17) estudantes da licenciatura, dos mesmos cursos.
Ressalta-se
a jovialidade presente na sala de aula que poderia ser pelas condições de
exigência que esse espaço trazia em deslocar-se aproximadamente uma hora de
suas cidades de origem para essa Instituição de Educação Superior, referência
nessa região e equidistante também aproximadamente uma hora de outras
instituições de condição semelhante para a modalidade de ensino presencial. As
aulas se davam no turno da noite, e com poucas exceções, todos eram estudantes
trabalhadores durante o dia. As idades tocavam a faixa etária entre 18 e 30
anos, e isso também diz de seus modos de ler o mundo.
A busca
pelas informações para constituir esta investigação transcorreu o tempo dos
dois semestres de 2017, no decurso de nossas aulas para também experimentar a
formação que acreditamos: a partir das práticas que já costumamos cumprir,
analisando-as para a formação que (esperamos) esteja acontecendo com os jovens
professores em formação inicial. A função docente se estabelece instituindo uma
estética, que se transforma na própria professoralidade (Pereira, 2013) que se
concebe. As marcas por ela deixadas mostram a diferença que se produz dia a dia
pelas escolhas pedagógicas ao exercer a função docente.
A
materialidade para a análise do texto emergiu de narrativas da formação dos
estudantes, que selecionamos para esta investigação, afloradas dos estudos de
nossos encontros. Esta mesma prática já vimos experimentando há mais semestres
e está relacionada também com a Educação de Surdos e o aprendizado de Libras.
Assistimos a vídeos, filmes de curta e longa duração, entremeio falávamos em
Língua de Sinais. Mas nestes últimos dois semestres, especialmente, foram
escolhidos alguns filmes do diretor Abbas Kiarostami: cineasta, poeta, roteirista, produtor,
fotógrafo e escritor iraniano, falecido em 04 de julho de 2016, em Paris, na
França, aos 76 anos de idade, assim anunciado pela mídia.
Os filmes de Kiarostami trazem uma linguagem que convida a dar o tempo
de olhar e pensar em suas proposições, para seguir pensando. Os muitos caminhos
que Kiarostami (Bernardet, 2004) percorre e oferece em suas obras são físicos e
metafóricos: chamam a andarilhar por dentro de cada um que os decide
acompanhar. Não nos sentimos abandonados porque junto vêm muitos que também
assistem ao filme conosco: uma experiência coletiva e única, de entrar por
imagens e sair diferente. Tudo o que um filme nos diz, conversa com anos de
vivências cotidianas que ora se confirmam ora nos inquietam. A cada sessão
olhamos para outras cenas e seguimos para outras direções, buscando sentidos.
Os recortes
do ordinário que nos ocupam, o cineasta traz em suas obras pinçadas em filmes
que são tão corriqueiros em nosso cotidiano que poderiam passar com poucos
comentários. Entretanto, voltar a olhá-las e pensar no que nos dizem é
colocá-las sob uma lupa e perceber que nossas ações, embora corriqueiras, não
são menos importantes. Assim na vida, assim no filme, assim na escola e para a
docência. Temos a vida de pessoas que vieram até nós acreditando em nossa
atuação de professores. E vêm muitos dias de suas vidas até a escola. Assim
vamos muitos dias de nossas vidas a uma escola.
O cinema como um dispositivo fílmico para o estudo
reafirmou os parâmetros qualitativos que elegemos: "É só pela motivação do questionamento que
se estabelece o tema e o objeto da investigação" (Gadamer, 2015, p. 377).
Não estamos pela busca de respostas, mas pela inquietação que um diálogo
movimenta. O que poderia aparecer como prováveis resultados, em outro contexto,
com outros sujeitos, poderia levar a outros indicativos para pensar questões
muito semelhantes. Este estudo, como propositivo de uma docência investigativa,
se pôs a pensar com este grupo de professores em formação inicial e apresenta
evidências que poderão ser muito próprias deste grupo.
As escolhas
que fazemos - ou não - pulam para o discurso e se transformam em narrativas.
Estas, recolhemos na intenção de apurar o olhar e observar o que elas nos
dizem. Para o estudo da tese, apontamos excertos que foram se destacando entre
os exercícios de aula, rodas de conversa e estudos. Não selecionamos momentos
especiais, mas todo o tempo que estávamos juntos eram possibilidades de
formação e por isso, possível de estar entre as informações para compor a
compreensão das referências para a pesquisa. A seguir, trazemos os estudos em
que de algumas delas situaram discussões pontuais e outras atravessaram o tempo
dessa investigação.
Outra
argumentação que apareceu para os cuidados metodológicos foi a pesquisa-formação (Josso, 2004), que
se colocou tramada às propostas que estávamos trazendo. Pelas narrativas de
formação (Josso, 2004) se ousava falar de si, vendo-se narrado em um conjunto de
ideias que se dava a conhecer o que se estava dizendo de forma escrita, oral,
sinalizada ou imagética. O tempo despendido em narrar, retribuía-lhe o pensar
sobre o que dizia. Ao seu exercício, possibilitava "fazer de cada
experiência de pesquisa-formação uma contribuição para a reflexão
conjunta" (Josso, 2004, p. 128).
O tempo da
formação, aqui em processos principiantes para estudar a escolha profissional,
ainda estava sob "a mediação de uma linguagem e o envolvimento de
competências culturalmente herdadas" (Josso, 2004, p. 49). Havia um espaço
de ensaio para compor a figuração docente que protegia de algum julgamento que
incidisse em "erro". O que fazíamos aqui era encorajarmo-nos a
mostrar atitudes para uma docência que estava sendo elaborada em sua composição.
As escolhas que poderiam ser feitas, ainda seriam melhor pensadas, afinal, a
docência é processo investigativo a cada contexto que se aproxima.
Ao recolher
em um conjunto as informações que foram se acumulando com as escritas dos
licenciandos, pudemos compreender que, a partir de referências que traziam,
suas considerações vinham de percepções autobiográficas. Em suas palavras
apareciam escrituras de seus corpos e relatos de suas vivências, que diziam de
suas histórias (Josso, 2012). Quem já estava na escola, atuando, trazia em suas
narrativas a sua visão da docência - agora em suspenso por participar de uma
formação profissional para exercê-la.
No olhar
para as escritas foi visto como "a narrativa tornou-se um caminho para o
entendimento da experiência" (Clandinin; Connelly, 2011, p. 27). A
linguagem, atualizada nos atos de fala, mostra, em parte, como procedemos na
construção de nosso mundo social (Delory-Momberger, 2014). E foi por este
caminho que nós os acompanhamos, observando suas narrativas nas conversas
coletivas que se faziam em nossos encontros. Acreditamos que mesmo se contando,
formulam uma projeção de si, que não era intuito perceber o que poderia ser ou
não, mas como falavam de si e quais percepções traziam. Afinal, para a formação
de professores, o exercício é pensar e conversar sobre o que pensamos.
Pudemos
conhecê-los melhor quando de si falavam e emergia em suas histórias a inserção
social que os relacionava a esse espaço, suas buscas culturais e investimento
profissional. Pelas falas, expunham seus gostos e de suas opiniões, saltavam
seus juízos a respeito de convenções e códigos, que em seus grupos foram sendo
construídos. Não há intenção de prever como agiriam profissionalmente, mas ali
se inscrevem atitudes morais ou ideológicas (Delory-Momberger, 2014), as quais,
em seu conjunto, formam a sociedade que edificamos.
Durante as
rodas de conversa, amizades se firmavam e suas narrativas aproximavam ou
questionavam posturas. A pesquisa narrativa (Clandinin; Connelly, 2011) foi
artifício para rememorar, imaginar e dizer de suas experiências para levá-las
para os textos de pesquisa, estudos e ensaios se reafirmando, podendo provocar
um "modificar-se" e criar novas histórias, reafirmar outras. O que
muito gostamos de perceber foi que há narrativas que ao serem recontadas como
crenças, estariam perdendo sua argumentação de um lugar seguro, abrindo
fissuras para o instituinte de uma docência criativa, possivelmente mais
autoral.
A
pesquisa-formação constitui-se nesse movimento em que cada um investiga a si,
reconhecendo-se como autor de sua história - ou o quanto delega ao outro a sua
formação. Os narratários ao contarem-se, compreendem suas histórias ouvindo-se,
como se exteriormente lhe fosse contado: falam e ouvem-se, como em um filme,
seu filme (Delory-Momberger, 2008).
As
narrativas que fomos agrupando foram reunidas pela correlação aos temas que as
discussões se estendiam. Depois de nossas conversas, sempre transcorria um
tempo para escrever e pensar sobre as inquietações que persistiam. As
aprendizagens desse momento, transcritas em palavras, traduzem "uma
oportunidade para exercermos um juízo, uma ação, um comportamento, uma atitude
interior, levando em consideração as perspectivas abertas pela procura de
articulação" (Josso, 2004, p. 108) das buscas e práticas de nossa ação
consciente (Tardif; Lessard, 2011). Por aí se estabelecia uma experiência de
diálogo aberto e compartilhado do que pensávamos, junto ao que compreendíamos
por estudos para a aprendizagem de Libras e para a formação profissional - para
a docência ou outra formação técnica.
Tendo nos
aproximado do relato de como se fez a investigação com os professores em
formação inicial, passamos a trazer elementos que tornaram-se significativos na
leitura final. As discussões a seguir mostram como a materialidade que foi se
tornando o conjunto do estudo deram condições para argumentar nossos
posicionamentos. O que apontamos aqui e discutimos, a partir de outro momento
político e sob a orientação de autores com outros pontos de vista, poderá ter
interpretações diversas daquelas aqui descritas.
Os
movimentos para uma educação que observa a estética se dão pelo ouvir, ler e
ver histórias: nossa atenção se envolve, combinada pelas inquietudes que
trazemos. Torna-se cativante espiar pelos filmes, pela fotografia, pela
literatura, pela poesia escrita e em imagens, a estética que se revela e dá cor
e tira da ideia de uma forma (enformada) à docência e à vida. Empurra-nos a
pensar a ética, que dá tom às nossas atitudes. Leva-nos a pensar planejamentos
mais criativos e sensíveis aos estudantes com quem nos propomos estudar.
Da cor que
trazemos aos sentimentos, nos reconhecemos humanos: esta é uma das propriedades
do cinema quando faz aflorar, em pouco tempo de projeção, convicções que
poderão nos aproximar da alteridade que experimentamos. Foi assim com os
estudantes quando, nas rodas de conversa, concluíram que "O sentido nasce
do eu com o outro" (Hermann, 2014, p. 50). Os muitos sentidos que trazemos
em nosso repertório quando formamo-nos pela ética e pela estética,
relembra-nos, continuamente, que somos humanos e podemos ser sensíveis.
Das palavras
que escolhemos para dizer como vemos os roteiros apresentados, colocamo-nos em
lugares nos quais assumimos posturas: dizem do Imaginário Social (Castoriadis,
1982) que partilhamos em nossas crenças. Olhar, dizer o que pensamos e ouvir o
quê e como dissemos, coloca-nos em posição de escuta, daí uma possível formação
voltada para a ética, esteticamente vestida pelas palavras que escolhemos e
arranjadas em discursos que nos mostram o que aí está.
A educação
que discutimos na formação transparece a experiência estética que experimenta.
Ao longo desse ano, mas também dos anteriores e do tempo que segue, continuamos
analisando filmes, selecionados para cada período de estudo, que trataram de
mexer com a nossa formação, pari passu
com a estética e a ética (Boufleuer; Johann, 2016). A experiência formativa e a
reflexão (Rajobac; Bombassaro; Goergen, 2016) levaram-nos a perceber que podem
afastar a tecnicização e o didatismo das práticas educacionais.
A exibição
fílmica como recurso didático está para além de um planejamento que tenta
conter a atenção de seus expectadores em um trabalho avaliativo ao listar
detalhes em cenas que se apresentaram na tela. O didatismo quanto ao cinema
(Valença; Moraes 2015) não poderia estar em planejamentos pedagógicos depois de
tantas discussões metodológicas que ressaltam a importância dos sentidos que
buscamos dar visibilidade nas aulas. O cinema é uma janela para alçar voos de
um mundo a outro e não preencher lacunas em espaços vigilantes da atenção dos
estudantes.
Nas
discussões que fizemos, os roteiros foram convites para portas abertas a
visitar imaginários: seus, dos colegas, dos produtores de cada um dos filmes. O
repertório que fomos surtindo com temas diversos, providenciaram visitações a
sentimentos em memórias guardadas e algumas muito restritas a debates em outras
rodas de conversa. Mas aqui, por estarmos em formação para uma escola que
deveria acolher a todos, partimos do pressuposto que também estaríamos abertos
ao diálogo.
Anotar
conceitos que tentem descrever o que seja "humano", como estudar
teorias a serem transmitidas não tem mais espaço quando, por meio de uma
experiência estética, singular da constituição humana (Boufleuer; Johann, 2016)
nos acontece. Pensar a educação está para além dos espaços instituídos para o
estudo e isto precisa ser experimentado na formação para chegar até a escola.
Os acadêmicos de licenciatura que ampliam seu repertório experimentando e
abrindo outros espaços em experiências que os desacomodam, renovam a
compreensão sobre o que pode acontecer na educação.
As rodas de
conversa, também provocadas pela projeção dos filmes, deixam à vista
sentimentos pela vida que há na formação. Entender o que seja aprender sempre
foi o que me fez querer muito expandir o que entendemos por "aula". O
cruzamento com o cinema como dispositivo de formação (Souto, 1999) pode
despontar sentimentos que nos deslocam (Dias, 2011; 2012) de conceitos
reducionistas para dar impulso e abrir-se a outras concepções.
Os filmes
que trouxemos para as aulas, curtas e longas, tornaram-se inspiração para a
análise dos estudos no aprendizado de Libras. O cenário de nossos encontros
eram a partir do que poucos sabiam sobre o alfabeto da Língua Brasileira de
Sinais, ou sequer tinham visto e o que já tinham observado sobre intérpretes de
Libras em eventos (Rosa, 2005), na televisão ou sala de aula, junto a colegas
seus, nas aulas da graduação. Onde o alfabeto se juntava aos sinais, estava
sendo o que aprendíamos (Gesser, 2009). Nesse contexto, saber a língua que o
intérprete de Libras usa (Russo; Pereira, 2008), era o grande desafio.
A
experiência que esses estudantes passavam a ter, redefiniam o conceito que
traziam sobre linguagem. Agora com o contato mais próximo com o cinema, havia
mais linguagens a serem conhecidas e estudas, pois as diversas linguagens que o
cinema agrega - a oral, a escrita, a imagética, a sonora, e tantas outras -
passavam a vir acrescida da linguagem sinalizada (Quadros; Karnopp, 2007) e
também legendada. O que era visto para o outro, depois de um aprendizado de
língua, transpassava a própria experiência em ver-se imerso em um mundo oralizado e a viabilidade de um mundo
sinalizado acessível ou não.
Outras
questões que destacamos podem ser pontuadas pelo Imaginário Social
(Castoriadis, 1999) de uma coletividade mostrada em narrativas que deixam
evidenciadas a emergência de revermo-nos por acreditar na condição humana que
nos agrega - apesar das contradições de nossas atitudes. Os espaços formativos
em Educação cumprem esta função e responsabilidade, problematizando as
inter-relações que invisibilizamos pelos discursos que ostentamos. Na discussão
que segue pontuamos parte do que também foi observado durante os estudos.
Este grupo
que marcou sua formação pela experiência que viveu coletivamente, conheceu-se
por mais uma oportunidade de diálogo: consigo e com os colegas. Viu-se também
em uma condição cada vez mais cuidadosa de sua escolha pela docência. Viu-se
compondo uma categoria profissional que se formava entre suas memórias de escola e dos professores
que tivera, dos professores formadores, na universidade, e como professor que
viria a ser ou já estava sendo.
Para estas
circunstâncias estava em nossos discursos narrativas que eram tomadas
emprestadas das muitas opiniões sobre o quê e como é ser professor e saber a
Língua de Sinais. Cada um dos jovens que se experimentou nessa formação trouxe
seu imaginário, compondo um magma social que diz do que pensamos e como agimos.
O que há de novo na aula? O que é instituinte na aula, na escola? Os povos
constroem as sociedades e as instituições. O que se mantém, nos seus espaços
instituídos e instituintes (Castoriadis, 1982), forma esta sociedade em
movimento, na qual vivemos.
Quanto mais
as conversas passavam de uma afirmação para um questionamento, mais
adentrávamos nos labirintos, cujas fendas se tornavam incertezas de caminhos a
poder serem percorridos (Castoriadis, 2004). Pensar sobre o que falávamos
levava a caminhar em círculos e voltar em mais de um encontro a pautar temas
parecidos. E sempre procuramos deixar visível que respostas rápidas não eram
saídas certeiras; precisavam outros caminhos, apontados por pistas que
apareciam e podiam ser indicativos para seguir investigando.
É do
imaginário o conjunto de percepções que atravessam o simbólico e pairam nas
significações. O magma que se forma e reflete o que pensamos e como agimos,
mostra como as significamos e assim as nomeamos quando falamos das realidades.
A existência das coisas acontece quando exercitamos o olhar, como um
aprendizado socialmente adquirido (Teves, 1992): aprendemos a enxergar. Daí as
narrativas que tornam plural as percepções que temos do mundo e das realidades
para as quais olhamos.
A busca pela
formação nos espaços de uma licenciatura também diz da crença que temos no
humano. Nesta sociedade que habitamos, estamos imersos a "quaisquer que
sejam as significações imaginárias que a subtendem e o fluido mágico, mítico,
religioso que a percorre" (Castoriadis, 1987a, p. 219), ao mesmo tempo em
que acreditamos poder mudá-las. Brigamos com as condições que nos colocam entre
as crenças que manifestamos tão presentes em nossas narrativas. Pelo menos,
estranhá-las poderia afrouxar amarras.
A história
que a compõe, nós próprios a inventamos, instituindo sua compreensão e
difundindo discursos sobre o jeito de quem a pensou. "A história é
criação: criação de formas totais de vida humana" (Castoriadis, 1987b, p.
280). Assim como a inventamos, inventariamos os espaços que cada um pode
ocupar. Na escola é assim. Na sociedade é assim. Se ousarmos alguma mudança
dessa compreensão na escola, também na sociedade, pisaríamos em outros lugares
com outras pessoas com quem, talvez, poderíamos escolher andar. Não seguir cominhos
que foram pensados para nós, mas pensarmos para qual caminho tentar seguir,
antes de trocar por outra direção e outra e outra... poderia exigir-nos
tentativas mais ousadas em mudanças que começariam em nós próprios.
Poder
participar porque nos vemos autores de planejamentos de uma aula porque foi
pensada a partir de uma experiência em que fomos/somos protagonistas é tomar
parte de um grupo corajoso que acredita nas suas potencialidades docentes.
Seguir cartilhas, currículos prontos e já pensados, planeando as diferenças
como se não existissem, é uma afronta à condição humana inteligente que
conquistamos. Assim como nos roteiros que foram apresentados, os finais não
eram para ser os esperados comodamente ou a história trouxesse uma alegria para
esquecer os barbarismos sociais que estão vigentes.
A criação na
que estamos imersos com a forma instituída da sociedade que dia a dia vai
sendo-nos apresentada, revirando-nos nela, resistimos com formas que do seu
interior saem outras leituras - das mesmas formas; de palavras que dentro
delas, leem-se outras ideias. "A auto-instituição da sociedade é a criação
de um mundo humano: de 'coisas' e de 'realidade' de linguagem, de normas,
valores, modos de viver e de morrer, objetivos pelos quais vivemos e outros pelos
quais morremos" (Castoriadis, 1987b, p. 280). Contamos nossas histórias e
somos contados por ela.
Entre as
conversas que rodavam nossos diálogos e as imagens que refletiam o que dizíamos
de nossas percepções, é mister da formação docente oferecer condições para
compreender as significações imaginárias das quais somos parte importante.
"Compreender, e mesmo simplesmente captar o simbolismo de uma sociedade, é
captar as significações que carrega" (Castoriadis, 1982, p. 166). E como
delas partilhar se não pela conversa em sala de aula?
A educação
pensada na formação pode projetar a tela do quadro, em quadros-frame de um
filme composto pelo conjunto de imagens em um roteiro. O filme toma proporções
cinematográficas e traz da rua para a sala de estudos pensar o que vemos ou
escondemos cotidianamente. Passamos a experimentar o exercício de olhar e
falar, ouvir e provocar sentindo-nos em outros lugares, desacomodando-nos por
experimentar o olhar de um diretor que se arriscou a dizer, mostrando a quem quisesse ver.
O quanto
podemos nos fazer presentes, sentindo-nos espectadores ou protagonistas,
experimentamo-nos como mais vivos. O quanto a arte nos animar, nos avivar, já
configura o quanto reafirmamos nossa presença porque "rompe com o
habitual" (Hermann, 2014, p.12): ficção e realidade se fundem neste jogo
que a arte brinca. O espaço que o cinema, dentro do campo das artes, abre, vem
empurrado pelo imaginário, nascido de nossas ações, sem nem mesmo percebê-las,
mas aí estão.
O imaginário
vai se mostrando quando as narrativas que trazemos expõem nossos discursos.
Assim também aconteceu com os estudantes das licenciaturas que aprendiam
Libras. É do imaginário propor mudanças nos cenários para que episódios
similares tragam a presença do eu ausente, que vive situações muito parecidas
sem dar-se conta do quanto elas se repetem. Os filmes trouxeram silêncios
ruidosos e silêncios silenciados. Como interpretá-los? A quem pedir palavras
para dizê-los? Puro exercício de si. Dar-se o tempo de compreender ou sair
incomodado por não ter se dado o tempo de conhecer-se sem palavras-respostas.
As rodas de
conversas, as escritas, pensar um roteiro e filmar um vídeo colocaram em
significações o imaginário que já vivemos, e dá chances de se tornar instituinte. Provocados a se jogar na
experiência estética de uma autoria - não por ser fácil, mas por poder
questionar a confiança em uma criatividade sua, ousou despertar a vontade de
compreender sobre o que cada um poderia dizer. Está no olhar a intenção de ver
e por isso se sonha, imagina, deseja e não apenas fotografa (Teves, 1992). O
exercício para reconhecer o imaginário está na experiência perceptiva (Teves,
1992), daí a imersão nesse mundo de imaginário rico de vivências. Recordamos o
que o olho viu para o olhar ver.
Várias
parcerias foram feitas durante o semestre porque a rede que estabelecemos em
nossos aprendizados precisam ser reconhecidos fora de um horário e local
marcados. As cooperações que se associam para compor a formação profissional, em
detrimento de uma formação individualista, acreditamos, já vêm a dar um tom de coletividade para se perceber o
compromisso que temos na vida das sociedades que integramos: somos a sociedade
na qual vivemos e somos como a pensamos. As paredes de um prédio escolar não
poderiam delimitar mundos - embora delimitem, dizendo quem a ele pertence e
quem nele não entra.
Das tantas
aprendizagens marcadas pelos estudos em Castoriadis, esta vem pela citação:
"A sociedade é obra do imaginário instituinte. Os indivíduos são feitos,
ao mesmo tempo que eles fazem e refazem, pela sociedade cada vez instituída:
num sentido, eles são a sociedade" (Castoriadis, 1987b, p. 123). E assim
também compreendemos a sociedade que levamos pelo discurso para a docência. De
alguma forma emergiu pelas narrativas que os estudantes traziam para os nossos
encontros.
As mudanças
que queremos também não são assim fáceis como em nossos planos queremos. Se em
um roteiro esperamos as cenas de uma história cuja fórmula já foi testada e
repetida milhares de vezes, ainda assim, esse roteiro é destinado a um grupo de
pessoas. Questionar-se porquê se está acostumado a ver um filme e não outro,
não passa pela escolha de todos. Há cinema para diferentes horários, diferentes
plataformas, diferentes compreensões. O quanto poderíamos ampliar nosso
repertório para sermos curadores de nosso deleite artístico?
As nossas
escolhas pautam-se por um leque restrito para o que elegemos. Afinal, estamos
imersos no que acreditamos e gostaríamos de mudar. Castoriadis nos diz da
história como uma criação que nós mesmos inventamos, instituímos (Castoriadis,
1987b, p. 280). Segue o autor dizendo que fazemos parte desta criação quando
nos vemos imersos na "sociedade instituinte" frente à sociedade
instituída (Castoriadis, 1987b, p. 280). Que briga é essa onde quanto mais nos
reconhecemos mais queremos nos diferenciar? E quanto alcançamos?
O tanto que
conseguimos inventar, instituímos as sociedades nas quais habitamos. Mas também
habitamos as sociedades que instituímos. "A auto-instituição da sociedade
é a criação de um mundo humano: de 'coisas' e de 'realidade' de linguagem, de
normas, valores, modos de viver e de morrer, objetivos pelos quais vivemos e
outros pelos quais morremos" (Castoriadis, 1987b, p. 280). Somos nós mesmos
que escrevemos o roteiro de nossas vidas, entrecruzando com roteiros que outros
escreveram, cenários que montam e se desmontam dia a dia.
Aprender uma
ou mais linguagens foi o grande desafio desse tempo de aprendizado para a
docência. O caminho que foi se constituindo anunciou-se por falas que punham
frente a frente ao outro - ao outro surdo, também. Do temido preconceito ao
desafio do exercício da alteridade, a estética se interpõe como experiência que
poderá provocar deslocamentos (Dias, 2011) na passagem para o aprendizado.
Grande parte deste desafio manifestou-se em um processo de experiência
estética, posto que a alteridade desloca o olhar centrado em si.
Em nossa
experiência, o desafio ao reconhecimento da alteridade aparece-nos conjugado ao
diálogo. Dos tantos desafios que aprendemos a ver, mais um desafio veio somado
às formas de nos comunicarmos. Temos vocábulos e condições para a comunicação,
mas o diálogo que se interpõe entre perguntas e respostas, querem a aproximação
ao outro? Seria uma questão de querer ou sentir-se provocado e encorajado a
aproximarmo-nos das questões da alteridade - desta vez trazidos pelo cinema? O
outro surdo, por vezes convidado de nossas aulas, por vezes na língua que
rodava nossos estudos, em práticas de composição linguística estava aí: ao
nosso lado. Ao nosso lado? À frente? Escondido? Onde está o surdo na sociedade
ouvinte?
Outro
argumento que trazemos para dizer do quanto fugimos de um didatismo com o
cinema, é que em nenhum momento explicamos o que seria visto ou pedimos que
explicassem. Debatemos impulsionados pelas imagens que víamos e nos afetavam.
Considerar a diferença entre o que o professor tenha a trazer e o que os
estudantes trazem é aceitar o mito pedagógico de que há uma inteligência
superior e uma inferior (Rancière, 2007). O filme nos deu a chance de partirmos
para uma aventura, que poderia ser intelectual, sensível, ética. E que permite
percorrer a compreensão de quem ousa dar palavras suas para o que vê e
compreende.
No decorrer
dos encontros, os estudantes pareciam abrir-se às experiências estéticas como
que sensibilizados com uma nova possibilidade de reconhecimento que nos é dada.
Alcançando aproximarmo-nos do outro por uma abertura estética, a ética em
educação é caminho para perceber suas possibilidades, reaproximando tentativas
de reconhecer a alteridade (Hermann, 2014). A experiência estética é uma das
vias para abrir sensivelmente o que pensamos e como nos tornamos, rompendo com
a ordem habitual (Hermann, 2014). As possibilidades mais criativas e menos
reprodutivas buscam na inspiração a estética de uma educação com fazeres
instituintes.
O tempo que
se destinou a entrar e defender uma tese em Educação para a formação docente,
deu-se em um tempo limitado. Nem por isso, ela não tenha iniciado muito antes e
seguido depois de tê-la defendido. Ainda assim, desse tempo restrito de
estudos, algumas ponderações foram pungentes e ficam aqui apontadas como
merecedoras de um destaque. O contexto que relemos e nele nos debatemos por
mais tentativas de compreendê-lo, permite-nos apresentá-las e assim aparecem na
próxima disposição.
Ao final de
um tempo destinado à pesquisa de doutoramento, concluímos que a investigação
como processo tornou-se a experiência desta formação. Daí todas as fases pelas
quais uma pesquisa leva a fortalecer a formação, a buscar por pistas,
mensagens, orientações, leituras, investigações, diálogos, histórias e as
transformamos em um estudo argumentativo para a formação para a docência, nossa
e dos estudantes de licenciatura que estavam conosco.
Os elementos
que fortemente estiveram presentes mostraram-se importantes para fortalecer os
processos formativos docentes de estudantes da formação inicial. A estética perpassou o
tempo e configurou-se em experiência ética na formação docente. A
pesquisa-formação (Josso, 2004), que deu os contornos metodológicos para a
investigação, confirmou-se. O processo de estudo para a pesquisa foi elaborado
na forma de uma investigação, e envolveu a todos, desafiando-nos a repensar as
escolhas que fazemos sob um olhar que não aceita apenas uma possibilidade de
interpretação.
Trazer
para o vocabulário e para a compreensão o que é a estética na formação docente
vem como um contraponto para pensar o contemporâneo em imagens e suas intervenções
em nossa vida. Apropriar-se da combinação de sons e imagens em um roteiro e
dele ver histórias e muitas interpretações possíveis, ampliam o repertório do
que pensamos coletivamente: revemos os princípios que regem nossas vidas em
sociedade, constituindo imaginários que se direcionam quanto a ter consensos,
sentimentos e gostos comuns (Hermann, 2005). A formação docente expande-se para além dos textos
escritos e os conceitos que põem em debate nossos posicionamentos somados,
projetados também pelo cinema.
Os processos
que interpelaram para a ética aproximaram definições que trouxeram para a sua
consideração conceitos plenos da riqueza, que falta enaltecer em nossas
relações: a alteridade, a sensibilidade, o outro, a diferença. Não estamos
buscando um retorno à ética, mas percebendo a sua falta (Hermann, 2014). Os
caminhos que se abrem para uma educação que concebe o outro no seu fazer
docente está em posição de provocar aberturas, posto que aparece como um espaço
apropriado para as discussões, sejam elas expostas pelas artes ou pelo próprio
viver: nela há uma estética.
O cinema,
pelas obras trazidas, vistas pelos estudantes e comentadas, mostraram uma
aproximação com o outro. Nos momentos de diálogo entre os colegas, nos
encontros das aulas, provocados pelo cinema, houve depoimentos, questionamentos
ou comentários que foram recolhidos em narrativas, depois de adensar o que se
falou nas rodas de conversa. Assistir a um filme passa a ser um motivo de
atenção e escolha de repertório.
Os cenários
que compõem o cotidiano docente mostrados em diferentes leituras, ampliam o que
já vem sendo interpretado, conhecido, discutido. Reler emprestando outros modos
de olhar, traz ainda mais possibilidades para o protagonismo dos professores ao
cenário que lhe cabe (Brancher; Oliveira, 2017). A experiência de uma formação
diferente das rotinas vividas na escola, mostra o quanto de possibilidades a
formação docente pode trazer para pensar uma educação cheia de diálogo. A
proximidade com a arte, seja pela afinidade com o cinema, seja pela relação com
alguma outra manifestação artística, leva a ter mais chances de fugir de alguns
reducionismos conteudistas e disciplinares na docência.
Nesta
sociedade na qual estamos imersos e cegos pelas suas crenças, mitos e símbolos
que instituíram movimentos do que definimos nas realidades que enxergamos,
Castoriadis nos deu a conhecer o Imaginário Social. Deu-nos a ver a
possibilidade da criação: "Devemos, portanto, admitir que existe nas
coletividades humanas uma potência de criação, uma vis formandi, que eu chamo de imaginário social instituinte"
(Castoriadis, 2004, p. 129). E que "A crença está onde há ser humano,
indivíduo ou coletividade" (Castoriadis, 1999, p. 140). A educação é uma
das coletividades da qual participamos e defendemos ardentemente por seus
princípios e espaço na sociedade.
Ampliar o
repertório que já trazemos em nossas histórias de vida (Abrahão, 2004), mesmo
emprestando palavras de outros autores para nossas narrativas, ajudam a dizer e
a compor o que pensamos. Nos vemos contados pelas histórias que espelham nossas
experiências. A mudança está em nós. Em nossas cabeças e em nossos corpos. Os
outros não sabem nossas intenções e interpretam a partir do que manifestamos ou
nos eximimos de nos responsabilizar por essa omissão. Falamos muitas línguas!
Este
trabalho apresentou a uma investigação que veio reafirmar o diálogo na formação
de professores e na formação pessoal. Ela fala da vida de estudantes, de
professores em formação inicial e da nossa docência. Este processo, mais que em
outros que já havíamos percorrido, trouxe ao debate da formação inicial a
compreensão sobre o outro na educação. Em épocas de metodologias ativas ou
colaborativas, este estudo justifica, mais uma vez, a premência em reforçar a
instituição ética-estética nos fazeres docentes.
Abrahão,
M. H. M. B. (2004).
Pesquisa (auto)biográfica - tempo, memórias e narrativas. In: Abrahão, M. H. M. B.A aventura (auto)biográfica: teoria & empiria. EDIPUCRS.
Bernardet,
J-C. (2004). Caminhos de Kiarostami.
São Paulo: Companhia das Letras.
Clandinin, D. J. &Connelly, F. M. (2011). Pesquisa narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa. (Grupo de Pesquisa Narrativa e
Educação de Professores ILEEI/UFU, Trad.). EDUFU.
Bosi, E.(2010). Memória e sociedade: lembranças de velhos. 16. ed. São Paulo, SP:
Companhia das Letras.
Boufleuer,
J. P.&Johann, M. R. (2016). A estética como possibilidade de alargamento do
horizonte da ética: intercomplementaridades formativas. In: Rajobac, R. Bombassaro,
L. C. &Goergen, P. Experiência
Formativa E Reflexão. Educs.
Brancher,
V. R. & Oliveira, V. F. de. (2017) (Re)simbolização da Docência: entre
Imaginário e Saberes na defesa do Protagonismo dos Professores. In: Brancher,
V. R. & Oliveira, V. F. de. (Orgs.). Formação
de Professores em Tempos de Incerteza: Imaginários, Narrativas e Processos
Autoformadores. Paco Editorial.
Castoriadis,
C. (1982). A instituição imaginária da
sociedade. (G. Reynaud, Trad.). Paz e Terra.
Castoriadis,
C.(1987a). As encruzilhadas do labirinto
I. (C. S. Guedes &R. M. Boaventura, Trad.). Paz e Terra.
Castoriadis,
C. (1987b). As encruzilhadas do labirinto II – domínios
do homem. (J. O. de A. Marques, Trad.). Paz e Terra.
Castoriadis,
C. (1987b). As encruzilhadas do labirinto III – o mundo
fragmentado. (R. M. Boaventura, Trad.). Paz e Terra.
Castoriadis,
C. (1999). As encruzilhadas do labirinto V – feito e a
ser feito. (L. do Valle, Trad.). DP&A.
Castoriadis,
C. (2004). As encruzilhadas do labirinto VI – figuras do pensável. (E Aguiar, Trad.).
Delory-Momberger,
C. (2014). As histórias de vida: da
invenção de si ao projeto de formação. (A. Pozzer, Trad.). EDUNEB.
Delory-Momberger,
C. (2008). Biografia e educação: figuras
do indivíduo-projeto. Paulus.
Dias, R. de O. (Org.). (2012). Formação inventiva de professores. Lamparina.
Dias, R. de O. (2011). Deslocamentos na formação de professores:
aprendizagem de adultos, experiência e políticas cognitivas. Lamparina.
Gadamer,
H-G. (2007). Hermenêutica em
retrospectiva: a posição da filosofia na sociedade. (M. A. Casanova,
Trad.). Vozes.
Gadamer,
H-G. (2015). Verdade e método I: traços
fundamentais de uma hermenêutica filosófica. (F. P. Meurer, Trad.). 15ª ed.
Petrópolis, RJ: Vozes. Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco.
Gesser, A. (2009). Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de
sinais e da realidade surda. Parábola Editorial.
Hermann,
N. (2014). Ética & Educação: outra
sensibilidade. Autêntica Editora.
Hermann,
N.(2005). Ética e Estética: a relação quase
esquecida. EDIPUCRS.
Josso,
M-C. (2004). Experiências de vida e
Formação. Ed. Cortez.
Josso,
M-C. (2012). O Corpo Biográfico: corpo falado e corpo que fala In: Educação e Realidade. Porto Alegre, v. 37, n. 1, p. 19-31, jan./abr.
Pereira,
M. V. (2013). Estética da
Professoralidade: Um estudo crítico sobre a formação do professor. Editora
UFSM.
Quadros,
R. M. de& Karnopp, L. B.(2007). Língua
de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Artmed.
Rajobac,
R., Bombassaro, L. C. & Goergen, P. (2016). Experiência Formativa E Reflexão. Educs.
Rancière, J. (2007). O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual.
(L. do ValleTrad.). 2. ed. 1ª reimp. Autêntica.
Rosa,
A. da S. (2005). Entre a visibilidade da
tradução da língua de sinais e a invisibilidade da tarefa do intérprete–
Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de
Educação. UNICAMP.
Russo, Â. & Pereira, M. C. P.
(2008). Tradução e interpretação de
língua de sinais: técnicas e dinâmicas para cursos. Centro Educacional
Cultura Surda.
Souto, M. et al. (1999). Grupos y Dispositivos
de Formación. Ediciones
Novedades Educativas.
Street,
B. V. (2014). Letramentos sociais:
abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na
educação. Parábola Editorial.
Tardif,
M. & Lessard, C. (2011). O trabalho
docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações
humanas. 6. ed. Vozes.
Teves, N. O (1992)Imaginário na
configuração da realidade social. In: Teves, N. (Coord.). Imaginário social e educação. Gryphus:
Faculdade de Educação da UFRJ.
Valença,
K. M.& Moraes, M. T. D. (2015). Cinema-experiência: o que aprendemos vendo
filmes? In: Anais do 6º SBECE Seminário
Brasileiro de Estudos culturais e educação e 3º SIECE Seminário Internacional
de Estudos Culturais e educação. Canoas: Educação, transgressões,
narcisismos. Disponível em http://www.2015.sbece.com.br/resources/anais/3/1430101862_ARQUIVO_VersaofinaldoSBECEabril2015.pdf